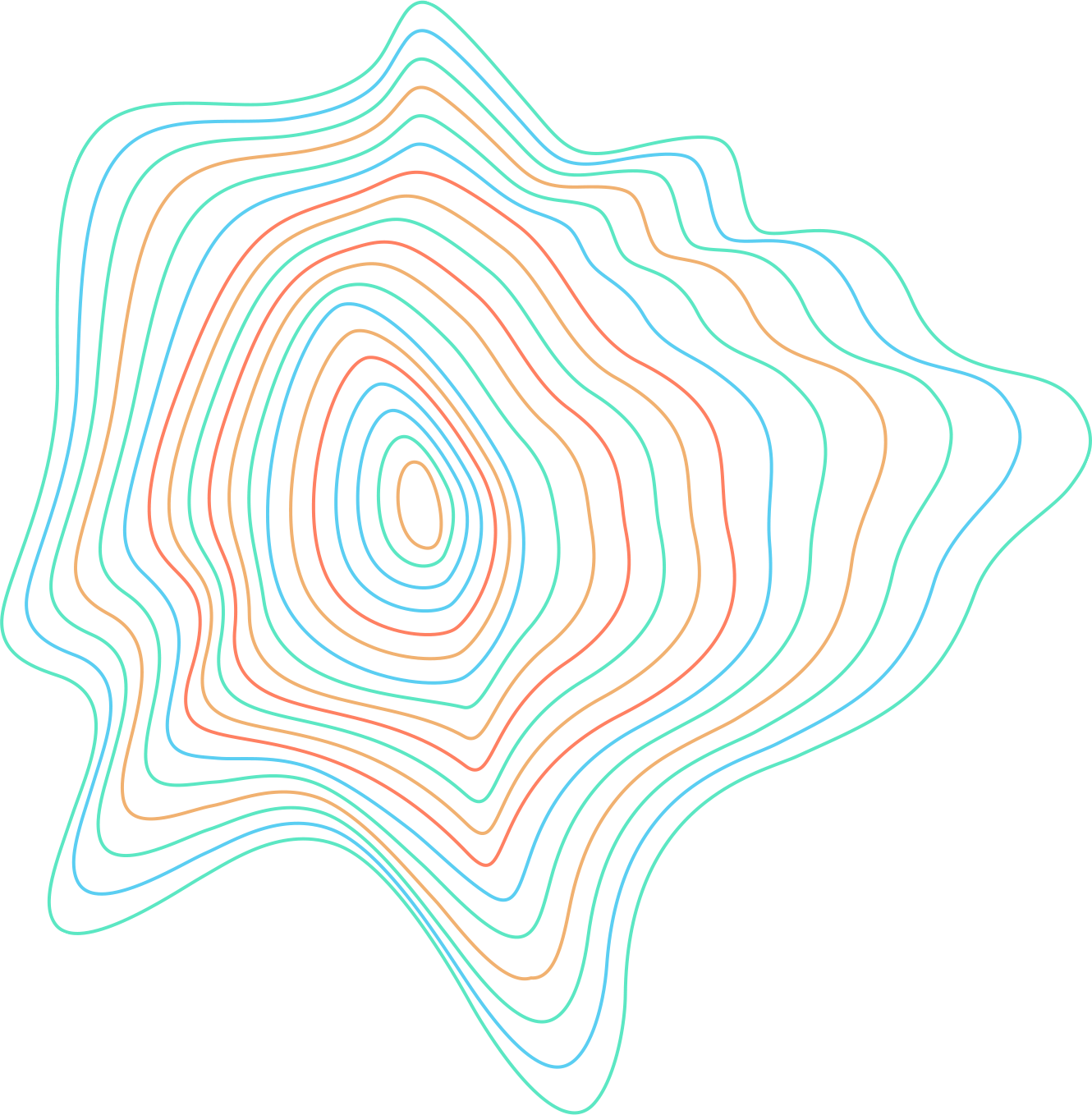Por João Pedro Soares, Deutsche Welle –
Por João Pedro Soares, Deutsche Welle –
Autor de “Ideias para adiar o fim do mundo”, filósofo indígena define a pandemia como uma reação à exploração do planeta e considera uma “distopia total” a ideia de renunciar à vida na Terra e colonizar Marte.
A originalidade do pensamento de Ailton Krenak se evidencia ao primeiro contato. Antes de conceder a entrevista a seguir à DW Brasil, por videoconferência, o filósofo indígena de 67 anos se queixa sobre a presença invasiva da esfera virtual em tempos de isolamento.
“Talvez seja a experiência de fato da tal realidade líquida”, comenta, em alusão ao conceito do polonês Zygmunt Bauman. “Se ela derrama dessa maneira, precisamos ao menos ter consciência de onde estamos, dizer ao virtual quem é que manda.”
A presença de Krenak em fóruns de debates no Brasil e no exterior já era frequente antes do início da pandemia. Mas os tons apocalípticos do atual cenário despertaram curiosidade inédita sobre as suas Ideias para adiar o fim do mundo, livro que passou a figurar entre os mais vendidos das livrarias brasileiras.
Publicado em 2019 e já traduzido para inglês e francês, o ensaio será lançado na Alemanha em abril. O autor garante que não tinha ambições proféticas ao escrevê-lo. No entanto, enxerga uma relação clara entre o surgimento do novo coronavírus e o cenário de destruição da Terra pelo modelo civilizatório que critica em sua obra.
“A gente imaginava que a resposta do planeta ao aquecimento global seria uma temperatura extrema, matando a gente torrado. Mas o que veio foi um vírus, e poderão vir outras coisas surpreendentes de dentro dessa caixinha do antropoceno, que vai começar a soltar surpresas para nós”, avalia.
Com a agenda lotada por seminários e entrevistas virtuais, Krenak se refugia das telas no quintal de sua casa, na Terra Indígena Krenak, área de 4 mil hectares localizada na margem esquerda do Rio Doce, em Minas Gerais, onde vivem cerca de 500 pessoas.
Sujar a mão de terra é justamente uma de suas propostas para reconectar o “clube da humanidade” com o planeta. O conceito de sua autoria se refere à enorme parcela da população mundial que se vê separada das outras formas de vida, tidas como “recursos naturais”.
Na entrevista a seguir, Krenak versa sobre o que vê como um agravamento do que ele chama de divórcio em relação à vida na Terra, simbolizado pelos planos de colonização de Marte, e analisa a situação dos povos indígenas na pandemia.
Ao reivindicar o fim da tutela dos povos indígenas pela Funai, tida como um resquício da guerra colonial, o filósofo sugere uma alternativa à vinculação pela nacionalidade. “Nossos povos têm que produzir uma capacidade de intervenção na vida geral para além dessa ideia de tutelados e reivindicar um tipo de cidadania global. Nós somos os povos da floresta, exercemos uma florestania. Onde tiver floresta no planeta, somos nós. A gente expande o nosso mundo”, defende.
DW Brasil: Desde o início da pandemia, sua presença em debates sobre o momento atual tem sido muito requisitada, e o Ideias para adiar o fim do mundo passou a figurar entre os títulos mais procurados. Qual é a relação entre o modelo predatório que você critica no livro e o momento atual?
Ailton Krenak: Algumas pessoas acham que eu estava fazendo uma profecia sobre o tempo. Eu não tinha nenhuma pretensão desse tipo. As coisas se encontraram de uma maneira apavorante para mim. Algumas das observações que eu faço no livro são de 30, 40 anos atrás, da minha convivência com pessoas que vivem na floresta, gente que ainda experimentava uma vida de abundância e passou a alertar para o fato de os ciclos de floração de algumas espécies ter mudado, e algumas árvores estarem adoecendo. Alguns cientistas entendem que a pandemia pode ser um alerta global, dado pelo organismo vivo da Terra, como uma reação à exploração que os humanos fazem de tudo quanto é ecossistema: oceanos, florestas, rios. Não tem um lugar onde os humanos não meteram a mão. É como se tivesse fechado um circuito, e a resposta para nós foi um vírus. A nossa mente investigativa quer saber quem o produziu. Em qualquer lugar do planeta, as pessoas deveriam ter a honestidade de se reconhecer como coautores dessa pandemia, ao invés de ficar procurando um culpado.
A ciência ainda resiste em admitir que isso integra os eventos climáticos. A gente imaginava que a resposta do planeta ao aquecimento global seria uma temperatura extrema, matando a gente torrado. Mas o que veio foi um vírus, e poderão vir outras coisas surpreendentes de dentro dessa caixinha do antropoceno, que vai começar a soltar surpresas para nós. E parece que algumas lideranças intelectuais e políticas do mundo inteiro ainda não despertaram para a gravidade da coisa. Priorizaram a vacina, mas vacina é só para os humanos — um antropocentrismo doente. É como se a gente estivesse querendo mais do mesmo: nós vamos vacinar todo mundo, e o trem-bala continua. No mundo inteiro, a ciência está interessada em produzir vacina. Talvez, a gente devesse estar produzindo silêncio, diminuindo o aquecimento global. Quanta energia estamos gastando para produzir vacina? Será que produzimos vacina sem produzir aquecimento global?
Após ser traduzido para inglês e francês, o Ideias para adiar o fim do mundo irá ganhar uma versão em alemão no mês de abril. Como você vê o interesse do público europeu pelo pensamento de um índio brasileiro?
Eu fui antecedido por uma pessoa que admiro muito, o Davi Kopenawa Yanomami. Há 11 anos, foi publicado o seu livro A Queda do Céu – Uma cosmovisão yanomami (transcrito pelo antropólogo belga Bruce Albert), e ele foi muito discutido na Europa. Tem traduções do livro para várias línguas europeias. Inclusive, a primeira edição dele não saiu em português, mas em francês. Eu fico muito feliz de estar na trilha do Kopenawa. É uma boa companhia para mim, e eu fico feliz de o pessoal que vive nesse seleto clube se interessar pelo que nós estamos anunciando sobre o desconforto que experimentamos no corpo de Gaia, da mãe Terra, em relação ao tempo que a gente está compartilhando. Esse desconforto vem da nossa implicação com os territórios onde vivemos, isso que a gente chama de terra. Para não ficar uma coisa tão subjetiva, estamos falando de um lugar de onde a gente tira comida, bebe água, dorme, mora. Escritores indígenas dos Andes, Estados Unidos e Canadá também vêm há algum tempo alertando para esse divórcio que os humanos estão vivendo em relação à vida na Terra.
É como se a gente tivesse acreditando que podemos produzir um outro lugar para viver com a mesma expansão que vivemos neste planeta. Talvez seja por isso que, nos últimos 12 meses, cerca de 12 ou 15 missões espaciais foram disparadas em direção a Marte. A ideia mais pretensiosa é de instalar um hotel e começar a colonizar esse planeta. Para mim, é uma distopia total. Seriam os humanos renunciando à vida na Terra e indo para outro lugar que a gente não conhece, deixando para trás um planeta que nos produziu. Nosso corpo, nossa anatomia, nosso funcionamento foi todo feito para a Terra. Eu não conheço ninguém que foi feito para viver fora da atmosfera do planeta Terra. Esses caras estão declarando que não precisam da Terra e podem viver em outro lugar. Podem querer justificar isso como um avanço científico. Da mesma maneira, muita gente achava que o desenvolvimento da energia nuclear era um avanço científico, enquanto ocultava a verdadeira intenção, de produzir uma capacidade de exterminar a vida no planeta utilizando a energia nuclear, em Hiroshima e outros lugares. Depois de concluir que temos a capacidade de implodir a Terra várias vezes, queremos também achar outros lugares que a gente possa implodir no futuro. Nós viramos uma peste cósmica.
A Associação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) calcula que o número de indígenas mortos em decorrência da covid-19 tenha ultrapassado a marca dos mil em março. Qual é a dimensão dessa perda?
Provavelmente, essa contagem de mil indígenas mortos pela covid é menor do que a realidade. Tem muita gente que não é considerada indígena. Quando eles dão entrada num hospital ou morrem num posto de saúde, só tem o nome deles, e a cor é parda — ou negra. A cor não decide quem é indígena ou não. Nossos documentos civis não indicam que a gente é indígena. Na minha carteira de identidade, não tem um campo dizendo “indígena” ou “krenak”. Se o cara tem um óbito num posto de saúde em qualquer beirada do Brasil e não tiver acompanhado de alguém para dizer de que povo ou etnia ele é, isso não tá no documento. A documentação dissimula as nossas realidades étnicas, para a gente ficar nesse balaio de gato. E tem um provérbio que diz que, à noite, todos os gatos são pardos. Nessa noite da covid, qualquer um que morrer em um posto de saúde por aí é pardo.
Recebi esta semana um pedido de ajuda da Paraíba para uma comunidade não reconhecida como indígena numa “quebrada” de lá. A pessoa me dizia que eles estão morrendo de fome e de covid. São 130 famílias, que não são assistidas por ninguém, e queriam que eu fizesse uma campanha de donativos para eles. Eu pensei: caramba, é o tamanho da população da minha aldeia. Eles não são reconhecidos pela Funai, nem por ninguém, e não têm o atendimento do Distrito Sanitário Especial indígena (DSEI). Logo, não foram vacinados. Quer dizer, se essas 130 famílias morrerem, não vão entrar nesse número. Mas os povos indígenas vão sobreviver à pandemia.
Entre diferentes povos indígenas, observa-se uma recusa à vacinação, sobretudo pela influência de missionários evangélicos. Como essa questão tem sido tratada pelas lideranças?
Esse negacionismo veiculado por missões evangélicas e toda a ramificação desse governo fascista, com um exército de pastores soltos por aí, treinados para fazer o dano, vem sendo enfrentado desde a primeira hora. Muitas lideranças gravaram mensagens dirigidas às suas comunidades, em línguas nativas, como a tikuna, nhengatu e guarani. Foram direcionadas essas mensagens desde abril, maio do ano passado. As mídias todas têm contribuído muito para confrontar esse obscurantismo missionário que chega às aldeias. Mas é incrível como eles conseguiram implantar uma confusão tão grande que, em algumas comunidades, foi necessário a vacina chegar acompanhada por soldados, que fizeram a segurança da equipe vacinal, para garantir que não fossem agredidos, e nem as vacinas destruídas, por ordem de um pastor evangélico.
Essa podridão entrou nas aldeias neste governo, que colocou um pastor para dirigir a Funai e a Damares [Alves] ministra para ser a ministra da coisa toda. É a mulher que sobe no pé de goiaba para falar com Deus. O fundamentalismo pentecostal virou uma peste no Brasil. Não sei o que é pior: aqueles caras que vão marchar armados na rua ou esses caras que vão com a Bíblia invadir a casa dos outros na floresta. Nós estamos vivendo uma cruzada obscurantista, na qual querem transformar os indígenas em idiotas, totalmente alienados de si, da sua vida, e brigando entre si por causa de uma religião que veio de fora. Mas o povo indígena vai passar por essa roubada e sair vivo. Mesmo nas aldeias onde esses pastores enfiaram suas igrejas, eu posso garantir para eles: arrumem outro lugar para vocês irem, porque vamos botar vocês para fora.
O desmantelo da Funai deveria inspirar protestos contra o desvio de finalidade do órgão ou um repensar da relação de tutela estabelecida pelo Estado brasileiro com os povos indígenas?
É sempre bom fazer analogias, para não ficar fechado em si mesmo. Nos Estados Unidos há o Bureau of Indian Affairs. Aquela desgraça existe desde que o Buffalo Bill caçava índio nas pradarias. Nunca acabou. Até hoje, o Departamento de Estado dos EUA dá as linhas gerais das políticas com relação aos povos indígenas no país. A configuração colonial que esses Estados nacionais instituíram na relação com os povos nativos significa que não depende de nós a extinção da Funai. Antes dela, havia o Serviço de Proteção ao Índio (SPI), criado em 1910 pelo Marechal Rondon e os colegas dele. A República nunca vai existir sem uma agência de controle sobre os índios, porque ela é colonial, então precisa de um braço armado para vigiar os índios que subjugaram na guerra colonial. Houve uma guerra colonial, nós fomos vencidos, e agora tem uma agência que vigia os sobreviventes da guerra.
As pessoas têm que cair na real, largar de ser bobas. Não existe política indigenista para proteger os índios, mas para nos exterminar. Essas pessoas precisam ler George Orwell, ou Admirável mundo novo, em que há o “Ministério do Amor”, cujo objetivo é matar as pessoas. Quero lembrar aqui uma pessoa muito querida, o Mário Juruna, um xavante autêntico do Mato Grosso que foi deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele chamava a Funai de Funerária Nacional do Índio, e isso no final dos anos 1970. Naquela época, a Funai era a única agência que podia dizer se um território era indígena ou não. O Juruna, com uma inteligência incomum, teve a dignidade de desvelar isso. Nossa geração, que veio depois da dele, deveria continuar o trabalho, de declarar que a Funai não representa o povo indígena, que é uma agência do governo brasileiro para controlar a capacidade dos índios de resistir, se organizar e se expressar, mantê-los sob controle.
A prerrogativa da Funai de reconhecer as terras indígenas é uma violência imoral. A gente não precisa de um imbecil que ocupa um cargo público dizer onde é o nosso território. Os povos indígenas sabem onde é seu território antes de os brancos chegarem aqui. Pensando para frente, o que nossos povos têm que produzir é uma capacidade de intervenção na vida geral para além dessa ideia de tutelados e reivindicar um tipo de cidadania global. Nós somos os povos da floresta, exercemos uma florestania. Onde tiver floresta no planeta, somos nós. A gente expande o nosso mundo. Tem floresta no planeta inteiro. E abaixo esse papo furado de tutela. A melhor expressão seria dizer para alguém assim: vai tutelar a sua avó!
No prefácio do seu livro Encontros, o Viveiros de Castro lembra que você faz parte da primeira geração de índios a participar da vida nacional. Com esse olhar, como você avalia a atuação das jovens lideranças, muitas delas com vivência universitária?
Eu me surpreendo positivamente com o que as novas gerações, inclusive estes que estão passando pela universidade agora, da graduação ao doutorado. Fico surpreso com a clareza de sua atuação, e a determinação de invocar o sentido da ancestralidade, não como uma coisa do passado, mas algo que eles têm que fazer valer aqui e agora, no presente. Quando você vê o nosso querido Eloy Terena, advogado que está fazendo um pós-doutorado na França, uma pessoa maravilhosa que é a própria expressão dessa geração. Graças à sustentação dele no Supremo Tribunal Federal, os indígenas estão sendo vacinados, porque o Estado brasileiro foi intimado a isso. Outras decisões importantes daquela corte passaram a acontecer com a interveniência de pensadores indígenas, sejam lideranças políticas como a Sonia Guajajara e outras mulheres brilhantes, como a Joênia Wapichana, que tem um mandato no Congresso 30 anos após a passagem do Juruna por lá — em condições muito adversas, talvez bem piores do que as enfrentadas pelo Juruna, e sofrendo a violência daquele espaço. Mas fazendo com a maior legitimidade e honrando a herança de luta do seu povo.
As novas gerações são uma esperança, de verdade, para alguém da minha geração que vê o que eles estão fazendo, tanto no campo jurídico-político quanto no campo da arte. Os jovens indígenas estão performando com música, literatura, cinema, artes plásticas. A Naine Terena fez a curadoria de uma exposição na Pinacoteca que deixou todo mundo da arte olhando admirado, dizendo “ah, então tem arte contemporânea indígena”. Eu paro na curadoria da Naine porque senão teria que dar a lista de mais de 70 artistas indígenas que estão transitando por aí em galerias e museus de arte. Eles abrem também uma relação de respeito quanto à produção de pessoas indígenas que antes faziam aquilo que era chamado de artesanato, alcançando um reconhecimento de que isso que nós fazemos é arte. Esses jovens sabem muito bem onde estão pisando. Eu os considero meus sobrinhos, filhos e netos, e tenho a maior alegria de vê-los andando por aí.
#Envolverde