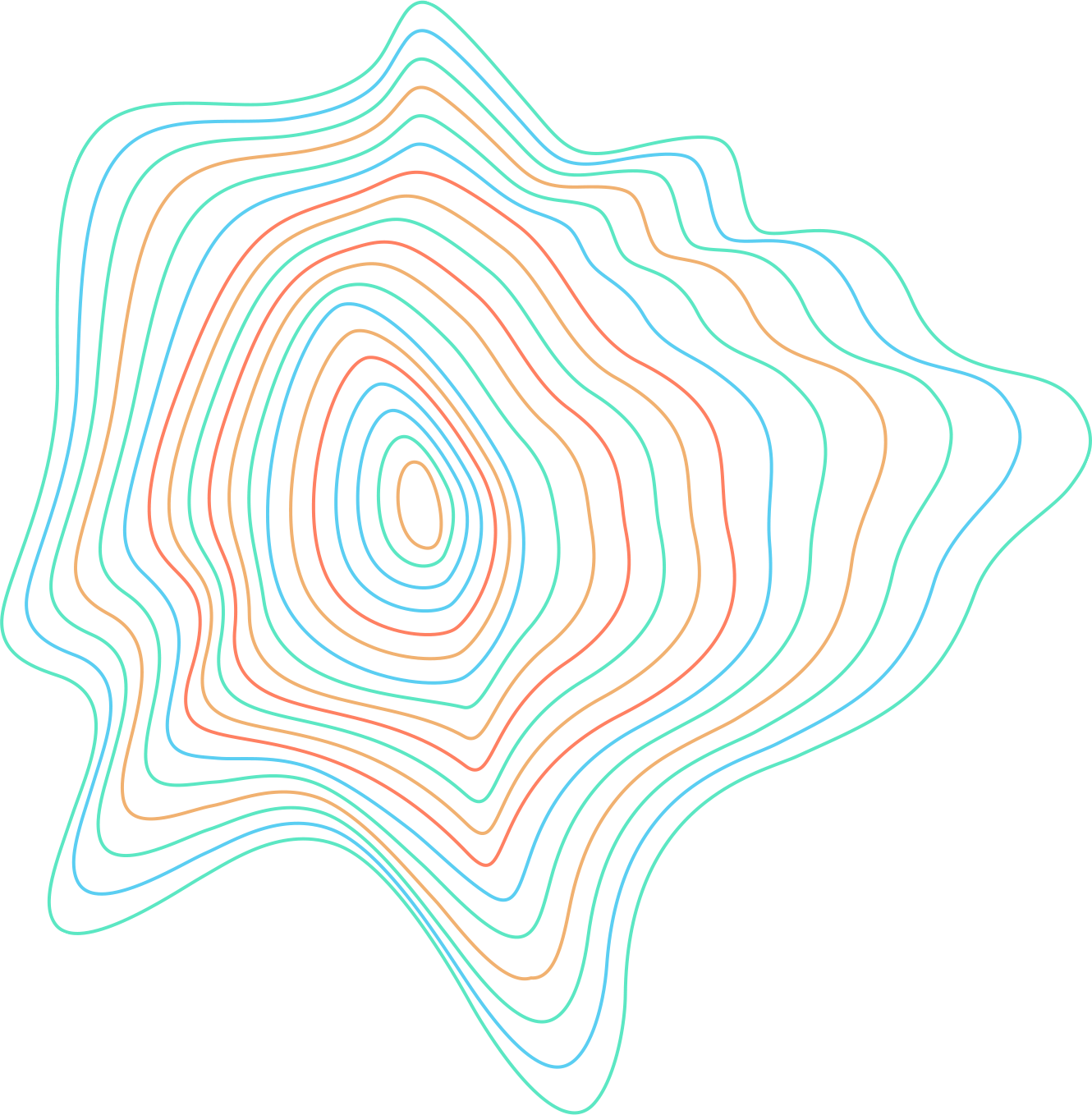Por Thais Lazzeri, Repórter Brasil –
Por Thais Lazzeri, Repórter Brasil –
Lideranças femininas de diferentes etnias viram alvo de criminosos ao combaterem a invasão de seus territórios, o apagamento de suas origens e as violações contra seu povo. Conheça a história de violência e de luta de três delas.
Na tradição indígena, as mulheres são as guardiãs das sementes e da biodiversidade. Carregando essa responsabilidade, em 2019 elas marcharam no Congresso Nacional juntas, pela primeira vez na história, ‘pelo direito ao território e à vida’. Mas, quando as manifestações como essa terminam, elas voltam para suas comunidades e se tornam alvos solitários por defender suas terras, suas origens e a sobrevivência de seus povos. São vidas marcadas por violências e lutas, como mostram as histórias de mulheres contadas neste especial da Repórter Brasil.
No interior do Amazonas, na região de fronteira do Alto Solimões, os brancos determinam quem os Kokama são: não descendentes de indígenas. Sem o reconhecimento da identidade e do direito ao território, a pressão de invasores ilegais nessas terras cresceu. Há mais de um ano Milena Kokama, de 62 anos, mãe, avó e liderança, vive exilada dentro do próprio país por denunciar invasões de grileiros e madeireiros. Ela já foi caçada por criminosos nas ruas de Manaus, capital do Amazonas, e até dentro de um prédio do governo brasileiro.
No Mato Grosso do Sul, acontece o inverso. O branco acredita poder determinar que os indígenas Guarani Kaiowá na cidade de Dourados são, na verdade, invasores paraguaios. E, por isso, não merecem respeito. Em agosto deste ano, a desumanidade foi notícia: jornalistas de um programa local compararam indígenas a animais famintos que rasgam sacos de lixo em busca de comida. É nesse barril de pólvora que resiste Jaqueline Gonçalves, de 30 anos, liderança que teve a casa banhada por combustível em janeiro por denunciar violações de direitos humanos.
No Maranhão, até a Polícia Federal chama os indígenas Akroá Gamella de “os que se dizem índios”. Como tantas outras comunidades ameaçadas de desaparecimento durante a ditadura militar, os Akroá Gamella esconderam, por décadas, a identidade como forma de proteção. Considerados “extintos” pelos brancos, tiveram suas terras invadidas – há até um processo de loteamento pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Quando se autodeclararam indígenas e buscaram retomar o território, foram tachados de invasores. “Aqui é ameaça de dia, de tarde e de noite”, afirma a liderança *Pjhcre, mãe solo que vive com os filhos em uma área de retomada e que preferiu falar sob condição de anonimato. “Aqui nem criança escapa.”
Marcha das mulheres indígenas
Gerações de lideranças femininas indígenas estão se articulando em todo o país e assumem diariamente o risco de lutar pelo que acreditam, ao lado de outras referências das comunidades. “Negar nossa identidade é uma ação tão violenta quanto assassinar ou ameaçar uma liderança. O racismo e o etnocídio matam corpos vivos”, afirma a educadora e ativista indígena Célia Xakriabá. “É importante pensar a contribuição das mulheres nessa disputa de narrativas. Nós somos um caminho da cura”, diz.
“É como dizer para um descendente de italianos que ele é bisneto de um português, o que não faz o menor sentido”, ilustra a antropóloga Marta Maria do Amaral. “Quem tem o direito de dizer quem eu sou? Isso é ilegal”, pondera a especialista, também ex-presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), entre 2012 e 2013.

Márcio Meira, antecessor de Amaral na presidência da Funai (2007-2012), chama essa estratégia de “genocídio invisível e silencioso, um plano de extermínio que começa dizendo que ele (o indígena) não existe por meio do apagamento da memória”. E continua: “Isso é uma característica de um regime facista, como o nazismo, e não de uma democracia.”
Como mostram as histórias contadas nos próximos capítulos e entrevistas feitas com pesquisadores, procuradores do Ministério Público Federal e mais de 30 lideranças indígenas, o reflexo da política implementada pela gestão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi a escalada de violência contra as famílias indígenas. Invasões possessórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio saltaram de 109 casos em 2018 para 256 no ano passado; e os conflitos territoriais triplicaram, segundo dados do recém-publicado relatório anual do Conselho Indigenista Missionário (Cimi).
Anti-indigenismo da pré-redemocratização
Em uma quinta-feira como qualquer outra – desta vez a de 23 de janeiro de 2020 -, Bolsonaro iniciou a transmissão de mais uma de suas lives com o resumo da semana. Contou que a “namoradinha do Brasil”, a atriz Regina Duarte, assumiria a secretaria de Cultura (da qual seria exonerada três meses depois); que só voltaria a dar entrevistas se a imprensa parasse de acusá-lo injustamente de atacar jornalistas (sete meses mais tarde, ele ameaçaria dar “porrada” em um repórter); e, a partir da metade dessa transmissão, entrou em um dos assuntos mais espinhosos de seu governo: a proteção aos povos indígenas e sua gestão à frente da crise ambiental – reprovada por 57% da população, segundo a última pesquisa Ibope/Confederação Nacional da Indústria, divulgada em setembro.
Àquela altura, chefes de Estado do G7 já tinham manifestado preocupação a respeito da escalada de incêndios e desmatamento na Amazônia, que cresceu 51% no primeiro semestre deste ano, e mais de 600 cientistas e 300 organizações indígenas pediam que a União Europeia aproveitasse as negociações comerciais para pressionar Bolsonaro pela proteção da floresta.
No vídeo ao vivo, o mandatário anunciou a “criação” do Conselho da Amazônia – lançado em 1995 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso e até então sem nenhum feito – para dar agilidade às ações de proteção à floresta e às comunidades da região Norte do país, onde estão 63,4% das localidades indígenas, de um total de 7.103. Nas palavras do presidente, “cada vez mais, o índio é um ser humano igual a nós”. A fala gerou polêmica e nova reação de entidades.
Não era a primeira nem seria a última vez que ele ou os chefes do primeiro escalão do governo seriam repudiados por “declarações racistas”. Ainda no primeiro semestre, o então ministro da Educação Abraham Weintraub afirmou odiar o termo “povos indígenas” e emendou que deveriam “acabar com esse negócio de povos e privilégios”. Em setembro, durante outra live, Bolsonaro afirmou existir no Brasil um tipo de “índio evoluído” – no caso, o que caminha junto com o agronegócio.
Na mesma transmissão, em uma fala que parecia contraditória, reafirmou seu compromisso de não demarcar terras indígenas, promessa da campanha presidencial. “A aparente incoerência nos discursos é uma estratégia muito bem articulada deste governo para tirar dos indígenas o direito à autoidentidade e, depois, negar o território. É um escândalo e algo inédito vindo de um chefe de Estado, mas o Brasil ainda não ligou as peças dessa quebra-cabeças”, afirma Marta Maria do Amaral. Ela não está só.
Na avaliação de Márcio Meira e de outros especialistas, a eleição de Bolsonaro trouxe consigo a política anti-indigenista da ditadura militar, anterior ao processo de redemocratização brasileiro.
Constituição “em disputa”
A Constituição Federal de 1988 e acordos internacionais do qual o Brasil é signatário, como a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, garantiram o direito à autodeclaração e ao território, considerados originários. “O que está em disputa hoje é a Constituição, porque o projeto deste governo não cabe dentro dela”, afirma Meira. “Quando o ministro do Meio Ambiente (Ricardo Salles) fala em ‘passar a boiada’, é justamente isso: cortar e eliminar todas as regulamentações. Isso não é um golpe de Estado à moda clássica. É uma maneira lenta e gradual de corroer instituições democráticas e, assim, expor as comunidades indígenas.”
Na última semana de outubro, o líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR), defendeu a realização de um plebiscito porque a atual, na avaliação do parlamentar, “só tem direitos e é preciso que o cidadão tenha deveres com a nação.” A Constituição Federal brasileira, conhecida como constituição cidadã, completou 30 anos em 2018. É considerada uma das mais avançadas no mundo e um marco no período de redemocratição do país justamente pela participação ativa da sociedade em pactuar um novo começo após 21 anos de Ditadura Militar.
Mas a política indigenista do governo – com missões evangélicas – está “dando certo”, segundo a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Começou com a nomeação do pecuarista Nabhan Garcia, ex-presidente da União Democrática Ruralista (UDR) e braço-direito de Bolsonaro, para a Secretaria Especial de Assuntos Fundiários. A UDR é uma organização de latifundiários responsável por ações violentas contra movimentos populares na década de 60 e contra a reforma agrária.
O segundo ato foi enfraquecer e tentar desmembrar a Funai, subordinada ao Ministério da Justiça e responsável pelas demarcações de terras no país. Só em 2019 o Conselho Indigenista Missionário registrou 829 casos de omissão e morosidade na regularização de terras. No Brasil, das 1.298 terras indígenas, 63% têm alguma pendência no processo demarcatório. A reportagem tentou contato com Franklimberg Ribeiro, primeiro militar a assumir a Funai no governo Bolsonaro, exonerado cinco meses depois de assumir. “Por decisão pessoal não trato mais sobre o assunto”, respondeu por mensagem de texto.
“A Funai foi desmantelada. Hoje, é um órgão que serve para atacar os direitos dos povos indígenas”, afirma Angela Amanakwa Kaxuyana, da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab). Uma das mudanças trazidas pela atual administração da entidade é a implementação das “novas classificações de identidade”, para nomear famílias indígenas de pelo menos 724 territórios em diferentes fases de demarcação no país. Em documentos oficiais, os índios passaram a ser chamados de aldeados, da cidade, integrados. Servidores foram proibidos de visitar esses territórios; profissionais de saúde, de tratar pacientes em plena pandemia. Houve até tentativa de liberar o registro de fazendas nas terras das comunidades, barrada pelo Supremo Tribunal Federal.
O relatório “O Brasil com Baixa Imunidade”, do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), aponta que o governo tomou “sucessivas medidas executivas para acelerar o desmonte” da fundação. “Também há uma reorientação da política socioambiental, que passa pela militarização dos postos de comando e pela retomada da ideia do ‘indígena incorporado’ da ditadura, o modo da ministra Damares de tratar indígenas”, diz Leila Saraiva, assessora política do instituto.
Os números corroboram essa avaliação: hoje mais da metade dos postos de comando da Funai é ocupada por generais da ativa ou da reserva. Dados do Inesc mostram ainda a redução drástica de investimento na Funai, que terminou 2019 com uma dotação de recursos 23% menor do que em 2013, de R$ 870 milhões para R$ 673 milhões – ou 0,02% do orçamento da União. A Funai não retornou os pedidos de entrevista feitos pela reportagem.
Crédito da foto de abertura: Leonardo Milano, APIB